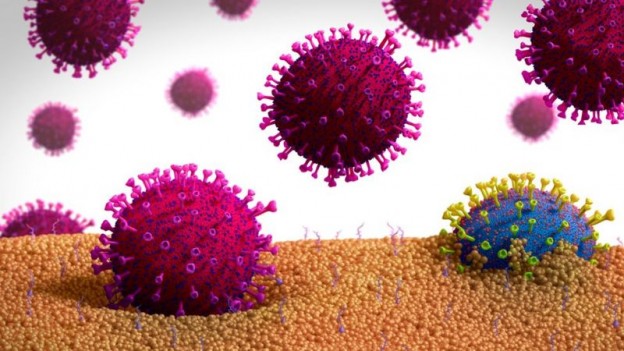A virologista Marta Giovanetti tem acompanhado de perto duas das três variantes do coronavírus que vêm preocupando o mundo nas últimas semanas.
A cientista italiana chegou ao Brasil em 2015 e já realizou pesquisas sobre os genomas dos vírus da chikungunya, zika, dengue, febre amarela e, desde o ano passado, do Sars-CoV-2.
É a pesquisadora com residência no país com o maior número de publicações sobre a covid-19 e a mais citada, conforme levantamento feito em outubro pela Agência USP de Gestão da Informação Acadêmica. Naquele momento, ela tinha 26 estudos publicados e 633 citações.
Além do trabalho no Laboratório de Flavivírus do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), no Rio de Janeiro, ela também colabora com um laboratório na Itália e com o brasileiro que está à frente do programa de vigilância genômica do coronavírus na África do Sul, Tulio de Oliveira, diretor do laboratório Krisp na Escola de Medicina Nelson Mandela.
Tanto Brasil quanto África do Sul identificaram recentemente novas linhagens do coronavírus que podem ser mais transmissíveis e até driblar os anticorpos daqueles que já tiveram a doença uma primeira vez, provocando reinfecções. Ao lado de uma outra cepa identificada no Reino Unido, elas preocupam autoridades de saúde de todo o planeta.
Em entrevista à BBC News Brasil, a pesquisadora explica os riscos representados por essas variantes, conta um pouco de sua trajetória e chama atenção para o estudo que detalhou o primeiro caso de reinfecção por uma linhagem do coronavírus que pode “driblar” o sistema imunológico, em que a paciente teve sintomas mais severos da covid-19.

A virologista operando sequenciador de genoma portátil: técnica usada em epidemia de zika tem sido aplicada na pandemia
As mutações N501Y e E484K
Hoje, causam preocupação pelo menos três variantes do Sars-CoV-2, conforme a OMS: a B.1.1.7, identificada em dezembro no Reino Unido, a 501Y.V2, encontrada na África do Sul, e a P.1, que emergiu no Amazonas.
A atenção dos cientistas está voltada a duas mutações em particular: a N501Y, presente nas três variantes, e a E484K, encontrada na da África do Sul e na que circula no Brasil.
Ambas estão localizadas em genes que codificam a espícula, a proteína responsável por interagir com a célula do hospedeiro, e que, na prática, facilita a entrada do coronavírus nas células humanas.
No caso da N501Y, há indicativo de que ela possa tornar o Sars-CoV-2 mais transmissível – mais contagioso, o vírus poderia levar mais pessoas ao hospital e elevar o número de mortes. Não há indicativo, contudo, de que a mutação resulte em uma versão mais grave da covid-19.
No caso da E484K, compartilhada pelas variantes de Manaus e da África do Sul – e ainda por uma outra identificada em dezembro no Rio de Janeiro, chamada de P.2 -, estudos têm demonstrado que ela pode dificultar a ação de anticorpos.
Ela modifica uma região da espícula conhecida como RBD (domínio de ligação ao receptor), que se liga ao receptor das células humanas – e justamente onde atuam os anticorpos neutralizantes produzidos pelo sistema imunológico.
Com a mudança, os anticorpos perdem a especificidade com o RBD e o vírus tem um mecanismo de escape do nosso sistema imunológico, o qual passa a ter maior dificuldade para atuar.
Descobertas desse tipo têm gerado preocupação sobre um possível efeito sobre as vacinas. Por enquanto, acredita-se que elas não percam a eficácia, mas podem ter essa eficácia reduzida.
“Mas muito mais estudos serão necessários para entendermos de fato se essas variantes podem ou não ter impacto grande nas vacinas. A gente não pode ‘fazer terrorismo’ neste momento”, acrescenta Giovanetti.
De qualquer maneira, o alerta que essas descobertas emitem já é bem claro: é preciso, de um lado, manter as medidas de controle à pandemia, como o distanciamento social, e acelerar o processo de vacinação para reduzir a possibilidade de circulação destas e de possíveis futuras linhagens, diz a cientista.
Quanto mais o vírus tiver liberdade para circular, maior a probabilidade de ele sofrer mutações.
Driblando o sistema imunológico
A E484K também chamou atenção da cientista em um estudo do qual ela participou recentemente, que identificou o primeiro caso de reinfecção de covid-19 por uma variante com essa mutação.
“Nosso estudo abriu várias outras perguntas, porque o segundo caso foi um pouco mais severo do que o primeiro”, ela conta, ressaltando que a maioria dos casos de reinfecção pelo Sars-CoV-2 descritos até o momento mostravam um segundo episódio mais leve que o primeiro.
Tratou-se de uma profissional da saúde de 45 anos sem comorbidades residente em Salvador, que teve a doença em maio e, depois, em outubro – cada episódio causado por uma variante diferente do coronavírus.
No primeiro, ela apresentou diarreia, dor de cabeça, fraqueza e dor ao engolir por aproximadamente 7 dias.
Meses depois, infectada pela linhagem do coronavírus identificada em dezembro no Rio de Janeiro, hoje chamada de P.2, os sintomas evoluíram para tosse, dor de garganta, perda de paladar, insônia e falta de ar. Não precisou ser internada, entretanto, e se recuperou.
O trabalho, liderado pelo pesquisador Bruno Solano, do Instituto D’Or de Ensino e Pesquisa e do Hospital São Rafael, foi publicado em janeiro em versão não revisada por pares e submetida à publicação científica Lancet.
“O estudo leva a perguntas sobre a questão da reinfecção e da gravidade clínica associada a essa mutação. É uma questão ainda aberto, e mais pesquisas serão necessárias.”
A variante P.2 apresenta apenas uma mutação na espícula, a E484K, enquanto a P.1 – encontrada inicialmente no Amazonas mas já detectada em outros Estados, como São Paulo – possui um número maior de mutações na proteína que se liga às células humanas e, por isso, tem gerado ainda mais preocupação.
Centenas de linhagens diferentes
Marta explica ainda que, apesar da preocupação com as novas variantes, as mutações são abundantes nos vírus.
Essas alterações no código genético dos patógenos aparecem quando eles se multiplicam, fazem uma cópia de si mesmos. São “erros” na transcrição do código genético – no caso do Sars-CoV-2, do RNA.
E podem acabar sendo importantes para o vírus justamente porque podem fazer com que ele se torne resistente à resposta imune do hospedeiro.
“A gente precisa pensar que eles são parasitas intracelulares obrigatórios – não conseguem sobreviver fora de uma célula, fora de um hospedeiro. Se não mudam, o hospedeiro se torna resistente, e eles não conseguem sobreviver. Então essas mutações são necessárias para que ele possa garantir a própria sobrevivência”, ilustra.
A maioria das mutações, contudo, é irrelevante – algumas inclusive prejudiciais à sobrevivência do vírus.
Para se ter uma ideia, apesar de o planeta estar discutindo quatro ou cinco variantes do coronavírus mais preocupantes, já há quase mil cadastradas por cientistas de todo o mundo na plataforma Pangolin – acrônimo de “phylogenetic assignment of named global outbreaks lineages”, e também o nome de um dos animais que, conforme investiga a ciência, pode ter servido de hospedeiro intermediário para o novo coronavírus
Seis anos de surtos e epidemias no Brasil
Formada em biologia, com mestrado e doutorado na área, Marta diz que sempre teve interesse nos vírus.
“Para mim era incrível pensar que essas partículas tão pequenas eram capazes de se replicar como se tivessem sido programadas por algum algoritmo misterioso.”
E foi ainda em Roma que teve contato com os pesquisadores Luiz Alcântara, então da Fiocruz da Bahia, e com Tulio de Oliveira, que atua desde 1997 na África do Sul, em um projeto de cooperação internacional para fazer a caracterização molecular dos vírus HIV e HTLV tanto no Brasil quanto na África do Sul.
Depois veio a oportunidade de vir para o Brasil, em 2015. Desde então, o trabalho da pesquisadora, que vive no Rio de Janeiro, tem se adaptado a cada novo surto ou epidemia que acontece por aqui.
Ela estudava a dispersão do vírus da chikungunya quando eclodiu a epidemia de zika.
Naquele momento de crise, Alcântara, hoje à frente do Laboratório de Flavivírus da Fundação Oswaldo Cruz, se uniu a parceiros nacionais, como a imunologista Ester Sabino, e internacionais, como Oliveira, na África do Sul, e as universidades britânicas de Oxford e Birmingham, no projeto Zibra, que objetivava fazer a caracterização molecular em tempo real do vírus que vinha causando microcefalia em bebês recém-nascidos.
Com a equipe, Marta viajou o Nordeste em um laboratório móvel para estudar o genoma do patógeno.
A tecnologia usada nesse projeto, um sequenciador de genoma portátil batizado de MinION, seria fundamental anos depois na pandemia de covid-19. Foi com ele que a equipe de Sabino, pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP, sequenciaria o primeiro genoma de Sars-CoV-2 no Brasil no fim de fevereiro.
“A implementação dessa tecnologia foi fundamental, porque se tornou uma técnica para permitir o monitoramento ativo em tempo real de patógenos virais”, diz Marta.
Depois do zika, ela relembra, houve ainda a reemergência da febre amarela no Sudeste e, em paralelo, grandes surtos de dengue.
Em 2020, acrescenta, chegou o coronavírus e tudo mudou de escala. Há mais de um ano os pesquisadores estão trabalhando de forma quase ininterrupta e a produção e o compartilhamento de conhecimento não tem parâmetro.
Em 12 meses, destaca, foram gerados mais de 400 mil genomas completos do Sars-CoV-2, “talvez um décimo da quantidade de genomas completos que nós temos do vírus da dengue, que é endêmico há décadas no Brasil” – um trabalho fundamental para o desenvolvimento de vacinas em tempo recorde.